 |
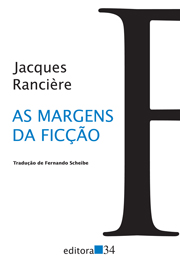 |
 |
As margens da ficção
Jacques Rancière
|
| |
| Se, na idade moderna, a sociologia, a ciência política e outras formas de conhecimento tomaram para si a razão ficcional aristotélica, produzindo narrativas com começo, meio e fim, invertendo ao final as expectativas, a ficção moderna trilhou o caminho contrário e instaurou no centro da literatura aquilo que sempre esteve nas suas beiradas — os acontecimentos triviais, os seres humanos comuns e o momento qualquer que pode condensar uma vida inteira. Nos doze ensaios de As margens da ficção, Jacques Rancière, um dos principais nomes da filosofia francesa contemporânea, acompanha esse processo revolucionário inicialmente nas obras de Stendhal, Balzac, Flaubert, Proust e Rilke, passa pelas técnicas narrativas em O capital de Karl Marx, até chegar nos romances de Conrad, Sebald, Faulkner e Virginia Woolf, fechando com uma inspirada análise das Primeiras estórias de Guimarães Rosa. |
|
|
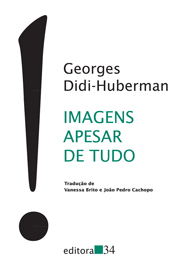 |
 |
Imagens apesar de tudo
Georges Didi-Huberman
|
| |
| Em agosto de 1944, membros do Sonderkommando de Auschwitz conseguiram fotografar de forma clandestina parte do processo de gaseamento a que eram submetidos os judeus, operação que levou à morte milhões de pessoas. Trazidas à luz numa grande exposição sobre a memória dos campos em 2001, essas quatro imagens tornaram-se o centro de uma polêmica que opôs, de um lado, aqueles que eram contra qualquer tipo de representação do Holocausto e, de outro, os que defendiam a importância vital de todo registro, entre eles, o autor deste livro. Em Imagens apesar de tudo, Didi-Huberman faz uma defesa apaixonada da imagem como forma de resistência, quando se furta à ordem dominante e, longe de se assumir como imagem absoluta, capaz de dizer toda a verdade, se apresenta fulgurante e lacunar, abrindo brechas em meio à obscuridade e ao horror. |
|
|

|
 |
A individuação à luz das noções de forma e de informação
Gilbert Simondon
|
| |
| Primeiro livro do filósofo francês Gilbert Simondon (1924-1989) publicado no Brasil, este é um estudo de alcance incomum, no qual o autor desloca a atenção do indivíduo para a operação da individuação e, mobilizando conceitos de física, química, biologia, história das ciências, sociologia, psicologia e outros campos, propõe uma reviravolta em noções filosóficas fundamentais como ser, forma, matéria, substância, sistema, energia. Baseado na edição francesa de 2013, este volume reproduz na íntegra a tese de doutoramento defendida na Sorbonne em 1958, acrescida de quatro textos complementares. Traduzida com rigor por Luís Aragon e Guilherme Ivo, sob supervisão dos herdeiros do autor, esta obra faz jus à potência do pensamento de Simondon, cujo legado só hoje começa a ser apreendido e explorado em suas múltiplas dimensões.
|
|
 |